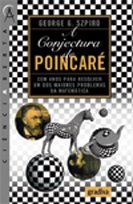Não há razão para pânico ou histerias. Não vale a pena correr a esconder para debaixo da mesa mais próxima, vender todas as acções em desespero ou deitar a toalha ao chão. As coisas mudam, mas nem sempre mudam para muito pior.
A situação aconselha prudência. Miguel Pais do Amaral vai compondo o ramalhete de editoras, qual apaixonada coleccionando declarações de pretendentes; os editores em pré-reforma engordam a conta bancária, embarcam na aposentação dourada para a qual trabalharam toda uma vida. (E quem os pode censurar, verdadeiramente?) Quem sobra nesta história de demandas quixotescas, negociações ferozes, batidas com a porta por parte de editores, lacrimejar de donzelas ofendidas, lamentações, choro e ranger de dentes?
Meus amigos, quem vai sofrer, quem já começou a sofrer, são as centenas de pessoas que foram e irão para as ruas durante os meses que se avizinham. A concentração empresarial e o monopólio têm o sabor de um whisky velho para quem vai enriquecendo e o gosto amargo do fel para quem desespera perante a possibilidade de desemprego. Não há razão para pânicos ou histerias? Quem por lá tiver de passar, passará, alguém acha que pensa de modo diferente quem trata da vida de pessoas como se fossem “peanuts”? O caridoso coração de Pais do Amaral estremece ao ouvir os rumores de que um negócio gigantesco, no espaço de um ano ou dois, se prepara, entre ele e a Bertelsman. De bom-grado o empresário se dispôs a fazer o jogo sujo de angariar, cortar a eito (património, capital, pessoas) e depois compôr tudo muito bem composto para oferecer, em belo bouquet feito de prémio Nobel e do mais importante escritor de língua portuguesa (palavras do próprio), ao noivo alemão que colecciona editoras pelo mundo fora.
Falando claro: nenhum leitor exigente perderá com a concentração editorial. Haverá sempre espaço no mercado para projectos que visam editar primeiro por gosto. As notícias sobre a estagnação do mercado da edição são manifestamente exageradas; nos últimos anos são muitos as editores que realmente trouxeram algo de novo ao mercado (A Cavalo de Ferro, a Livros de Areia, A Ovni, todas as minúsculas editoras que continuam a albergar a poesia, como a Averno), e houve também a renovação de algumas editoras que já eram manifestamente importantes no mercado português, como a Assírio & Alvim, a Cotovia, a Fenda. É verdade que nos últimos tempos a vida dos pequenos editores não tem sido fácil: a entrada das grandes superfícies, incluindo a FNAC, no mercado e a expansão dos grupos livreiros levou a que o poder de negociação destes últimos junto dos editores aumentasse exponencialmente, o que se traduziu em margens de comercialização bastas vezes incomportáveis. Mas também é verdade que a única razão para os livreiros terem conseguido forçar os descontos pretendidos foi a falta de um entendimento entre editores, foi a inexistência de uma associação de editores forte e unida, disposta a defender o dumping praticado pelas grandes superfícies. A lei do preço fixo seria uma óptima medida, se não vivêssemos em Portugal. Mas como a regra por cá é contornar chico-espertamente a lei, tornou-se norma vermos nos hipermercados livros com menos de 18 meses de edição com descontos astronómicos, e ninguém acusa ninguém. A ASAE serve mesmo para quê?
Num meio editorial onde as editoras de referência num passado recente (Asa, D. Quixote, Caminho, Gradiva) convivem lado a lado com os abortos editoriais que se foram instalando no mercado durante a última década, é de esperar o pior. Não é que, por exemplo, a D. Quixote, se salvaguarde do descalabro dos últimos anos, desde a saída de João Rodrigues (agora, na Sextante, outro exemplo de um excelente projecto editorial). Quando colocam à frente das empresas gente formada em Escolas Superiores Comerciais com um currículo assinalável na direcção das cadeias Lidl, sabe-se muito o que se pretende: baixar a fasquia, baixar, até acabar editando potenciais best-sellers pelos quais se pagam milhares à cabeça e que acabam por redundar em flops, e, deste modo, deixar de publicar produtos de qualidade e sucesso garantido, como é o caso dos outros quatro livros de Carlos Ruiz Záfon que precederam o sucesso de A Sombra do Vento (inexplicável). Resultado: o desastre e a consequente venda a alguém que se orgulha de ler, agora e sempre, um livro apenas: o de cheques.
Esperamos o pior, mas alguém há-de ocupar o lugar de referência das editoras que se afundam. Se Lobo Antunes sair da D. Quixote, alguém o há-de publicar. Como a Luísa Costa Gomes. Ou José Saramago, da Caminho. Ou Gonçalo Tavares.
Seria tão bom se todos fizessem como Rui Zink, que ao primeiro sinal de deriva da D. Quixote (Carolina e C.ª) abandonou o barco, indo parar à Teorema (que, curiosamente, também foi vendida a um grupo de investidores de contornos, no mínimo, nebulosos). Pessimismo? Apenas para quem achar que editar é como somar números numa calculadora. Os bons continuarão por cá.