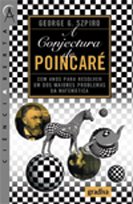Para o leitor desprevenido e com pouco tempo em mãos, uma das coisas que pode ajudar na escolha de um livro é o primeiro parágrafo. O nível de intensidade, o tom, o estilo, o tema, tudo pode ser lido nessas primeiras frases. Para um leitor mais habituado, estas primeiras frases ainda são mais importantes do que para o desprevenido. A audácia do escritor nesta definição inicial é fundamental. E esta audácia passa muitas vezes pela criação de um diálogo com a memória do leitor. Um romance histórico pode começar com um aforismo que defina uma época: “Aquele era o melhor dos tempos, aquele era o pior dos tempos (…)” (Um conto de duas cidades, Charles Dickens). Um épico inicia-se com uma evocação de alguém que conheceu o herói em tempos: “O Sueco. (…) O nome era mágico; também o era a sua cara esquisita” (Pastoral Americana, Philip Roth). Um livro no qual o acaso desempenha um papel importante principia com o desafio ao destino: “Durante um ano inteiro não fez outra coisa senão guiar, viajando erraticamente pela América enquanto esperava que o dinheiro acabasse” (Música do Acaso, Paul Auster).
Poderosas imagens se geram, ao ler estes três exemplos. A Revolução Industrial de Dickens e a sua riqueza crescente contrastando com a pobreza das classes trabalhadoras não coincide exactamente com a realidade que retrata, mas acaba por ser esta a ideia que continua a perdurar no nosso imaginário. A frase do romance descreve esse momento histórico na perfeição. Do mesmo modo, percebemos, no romance de Roth, que desde o início o que vai ser contado é a história de um herói (o Sueco) visto pelos olhos de um simples homem (o narrador). Que mais tarde se venha a revelar que o objectivo de Roth é partir do particular para o universal (a história de um homem, a história de todos os homens), prova a eficácia deste parágrafo inicial; reforçando a intensidade do logro — vai ser contada a história de um homem — espera-se que a revelação, quando aconteça, seja mais dramática. No fundo, é mais difícil entender a História em abstracto. A história de um homem torna a grande História mais humana. A distância entre a vida criada e a vida aludida ainda é maior no livro de Auster. A primeira frase de Música do Acaso é uma síntese do Homem americano: partir, criar novas fronteiras, desafiar o que tem, enfrentar o destino. O leitor apetrechado de suficientes recursos culturais associa este começo a toda a História da América. E não é necessário que alguém aponte este facto a posteriori; a sensação é imediata.
A memória, portanto, constrói a ponte que une a distância entre autor e leitor. A intertextualidade, termo do pós-modernismo tão caro a tantos escritores, não é mais do que isso: o jogo que o escritor faz com a memória cultural do leitor, a provocação que questiona os conhecimentos de outras obras literárias. Quando T. S. Eliot, em Wasteland, concentra toda a cultura literária ocidental num só poema, não faz mais do que aproveitar a bagagem do Homem da sua época, os vinte séculos de cultura que ele carrega. A originalidade é um mito; que pode ser assumido recorrendo ao reconhecimento da herança das obras anteriores. O leitor é convidado a entrar no universo pessoal do escritor, a sua memória de outros textos. E qual o leitor que não gosta de ver que o autor leu as mesmas coisas do que ele?
Posto isto, franqueamos as portas de entrada no romance de João Tordo, Hotel Memória, com um sorriso nos lábios. Logo no átrio, uma frase: “Afinal, a memória não é um acto de vontade. É uma coisa que acontece à revelia de nós próprios.” Que a primeira citação não seja de Tordo, mas sim de Paul Auster, indicia já alguma coisa. A frase de Auster (que não consigo localizar em uma obra concreta) surge antes do romance começar, e de certo modo justifica a existência deste. Porque veremos — vamos estragar já a surpresa — que Auster assombrou toda a escrita do romance, como já tinha sucedido com a primeira obra de Tordo, O livro dos homens sem luz. Admitir a influência é extirpar, logo à partida, a tentação da influência. Harold Bloom não estaria completamente errado ao falar em angústia, mas a verdade é que da angústia pode sair algo de bastante positivo (outro exemplo eficaz é a Obra mais recente do escritor catalão Enrique Vila-Matas). Ora, a memória que anuncia o romance foi o que permitiu ao autor escrevê-la. A outra função da citação é introduzir o tema da obra: já adivinhámos — é, como no romance de Ian McEwan (a chamada de atenção não é despropositada), a expiação. Ainda não começámos a ler, e já sabemos qual a principal referência textual e o tema. Falta o tom. Avançando em direcção ao salão principal, lemos a primeira frase: “Quando a conheci já ela trabalhava para um morto”. Talvez tivesse sido avisado usar uma vírgula a seguir a “conheci”, mas não vale a pena ser picuinhas. A frase é forte, modelar, exemplar. E introduz o leitor a um mundo onde, ao contrário do que acontece na primeira obra publicada por Tordo, o destino não é uma acumulação de coincidências, mas sim um conjunto de decisões erradas que definem o rumo das personagens. É claro que o começo de tudo tem muito de acaso. O narrador conhece Kim, apaixona-se e involuntariamente provoca a sua morte. Neste caso, os deuses não permitiram que ele soubesse da condição de Kim e condenaram-no a carregar com a culpa do seu desaparecimento — e da extinção do amor que tinha nascido entre ambos.
Mas falamos da ilusão da realidade. João Tordo não é um escritor dado a romantismos desesperados (a não ser que a matriz dos mesmos seja literária, isto é, que contenha uma referência a universos de outros escritores, seja a literatura gótica ou policial ao estilo de Edgar Allan Poe). Muito menos é alguém que caia no lugar-comum do herói arrastando o sofrimento metafísico, suspirando pelos cantos da casa — corrente tão ao gosto de grande parte da literatura portuguesa, actual e remota. O herói, que mais tarde será Bartleby, como o escrivão de Herman Melville (mais um membro da família literária do escritor), procura redimir um erro involuntário através de acções muito concretas. Não existe presunção, nem procura de coisas maiores. Perdido na América, um país que não é seu, ele é apenas mais um rosto no meio da multidão — como Karl Rossmann, personagem de Franz Kafka em O desaparecido ou Amerika —, que acaba por se cruzar com a viagem (ou fuga) de outro desaparecido, Daniel da Silva, fadista português que partilha o mesmo destino de Bartleby, fugir depois um conjunto de circunstâncias o ter tornado um exilado do mundo. O que começa por ser um fatalismo, vai-se tornando uma segunda pele para Bartleby e para Daniel da Silva. A história deste último, contada ao narrador em paralelo com a história do primeiro, é uma história de fuga, remorso e finalmente desvanecimento. Daniel da Silva é um fadista com uma voz marcante, que a determinada altura se pode tornar famoso e que deita tudo a perder, passando o resto da vida um passo à frente de quem o quer matar. Como a sua história é contada indirectamente, o leitor nunca tem a certeza sobre o que aconteceu, nem sabe o que ele sente sobre o que aconteceu. A estratégia é simples: tornar o narrador, Bartleby, num êmulo maldito de Daniel da Silva; a mesma história, vinte anos depois, o mesmo destino. O que distingue o destino do fadista do de Bartleby é a escolha; como o escrivão de Melville, o Bartleby de Tordo, prefere não o fazer. Atravessa o país, evocando outras figuras míticas do passado que o fizeram (e como não pensar na coincidência autobiográfica entre o narrado e o autor — ambos estudaram nos E.U.A., partilham as mesmas paixões literárias, etc.), dos peregrinos do passado alargando a fronteira aos escritores da geração beat, redescobrindo o vasto território americano. Em São Francisco, pode começar uma nova vida. Jack Kerouac fez isso, e descreveu a experiência no seu livro Big Sur. Charles Bukowski, boémio estacionado na costa oeste americana, é outro exemplo. O final em aberto deixa-nos acreditar que a última decisão poderá levar Bartleby a caminho de eterna errância, derradeira consequência do pecado que, na realidade, nunca consegue expiar.
João Tordo sobrevive muito bem no deserto da pós-modernidade. Poderia escrever floresta em vez de deserto, mas o termo reflecte o sarcasmo com que muitos olham para a classificação. Notamos a vontade que ele tem de assimilar leituras e influências, integrá-las na história que quer contar; acima de tudo, divertir-se — e sabemos que é quando o escritor parece divertir-se que o trabalho é mais aplicado. Os livros de João Tordo, e este em particular, descobrem a estrutura que os suporta, remetendo o leitor para clareiras de outras florestas, mas ao mesmo tempo escondem, bem escondido, o fio de Ariadne que urde, secretamente, as vidas das personagens. Tudo parece fácil, e a Tordo faltará apenas a autoconsciência irónica da impossibilidade de contar uma história, actualmente. As narrativas desfazem-se, esboroam-se, e apenas com a ajuda dos grandes mestres se consegue ainda erguer tais ultrapassados edifícios. O Hotel Memória do título não é mais que a estrutura que suporta a narração. É pretexto, claro, para contar uma história; mas é simultaneamente a metáfora que define o ofício do escritor: um hotel onde chegamos tarde, fugindo do mundo, a coberto de ameaças exteriores indefinidas. Exílio e reconstrução de uma vida. Não há muito mais que um livro possa dizer; o resto são acabamentos.
Hotel Memória, João Tordo, ed. Quidnovi (há uma edição de bolso recente).
O autor tem um
blogue, no qual vai publicando excertos do seu próximo romance.
(Versão ligeiramente corrigida de um texto publicado na revista Malagueta)