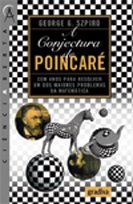Contornar o banal, a simplificação do pensamento, inventar novos modos de dizer o que antes já foi dito, pegar num tema e dar-lhe a volta, adaptar o tema à voz que já se possui - regras evidentes para a produção de um bom livro. Não é excessivamente importante a originalidade do material de base, pode ser até um constragimento para a prossecução da obra; o autor acaba por investir grande parte do seu esforço naquela ideia inicial absolutamente original e pode desleixar-se no aprimoramento da forma. Uma das maiores fragilidades da Ficção Científica, por exemplo.
Contornar o banal, a simplificação do pensamento, inventar novos modos de dizer o que antes já foi dito, pegar num tema e dar-lhe a volta, adaptar o tema à voz que já se possui - regras evidentes para a produção de um bom livro. Não é excessivamente importante a originalidade do material de base, pode ser até um constragimento para a prossecução da obra; o autor acaba por investir grande parte do seu esforço naquela ideia inicial absolutamente original e pode desleixar-se no aprimoramento da forma. Uma das maiores fragilidades da Ficção Científica, por exemplo. Em Nunca me Deixes, Ishiguro enveredou por caminhos estranhos ao seu universo criativo, poder-se-ia ter pensado. Mas de rompante somos confrontados logo nas primeiras páginas com todas as marcas de autor a que estamos habituados. O lento desenrolar dos acontecimentos acaba por confirmar a impressão inicial. A mestria do escritor inglês revela-se no uso de um estilo que finge ser desinteressado, afastado da pomposidade barroca dos primeiros livros, como Os Despojos do Dia, mas que não deixa de ser depurado de forma densa e nervosa, obsessivamente concentrado nos pormenores da narrativa: gestos, olhares, mínimas alterações de voz, o captar de memórias que remetem de imediato para o tempo presente. E o tempo, neste romance, é essencial. A narrativa é um extenso flashback, um salto em direcção ao passado idílico de Kathy, o narrador, realizado com um primeiro objectivo: reunir tudo que foi dito, tudo o que aconteceu que na altura parecia destituído de sentido, e reconstituir uma linha coerente que concorresse para o desfecho que é pressentido nas primeiras páginas, o fim de Kathy como "Carer". Mas este flashback, pontualmente interrompido por outras prolepses e analepses, pretende ser também outra coisa: o resgate de uma infância que passou rapidamente pela vida de Cathy, Tommy e Ruth. A amizade que unia os três, como nasceu, cresceu e se alimentou das suas forças e das suas fragilidades, das peculiariedades e imperfeições que, noutro lugar, os poderiam afastar.
Atribuindo sentido a essa infância perdida, Ishiguro acaba por compor de forma subtil, mas resoluta, personagens de corpo inteiro, dotadas de uma espessura que, ao invés de as elevar acima do comum dos mortais, as coloca a um nível próximo do leitor, quase palpável.
Não querendo adiantar muito mais sobre o enredo do livro, acrescento que a humanidade que ressume da vida quase trágica (e escrevo quase porque a serenidade com que as personagens aceitam o seu destino é desarmante) de Kathy, Tommy e Ruth, é o nó que acaba por ser desatado no final, o que de modo irreversível me colocou de um lado da discussão ética que o tema do livro levanta. E obras assim, que se dirigem directamente ao entendimento do leitor, o questionam sem pudor, são raras.
Nunca me Deixes, Kazuo Ishiguro, Gradiva, 2006