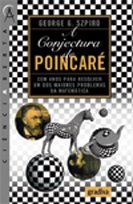O Renascimento não terá sido a época mais fascinante da História apenas porque a História não tem épocas fascinantes, é neutra e limita-se a ser a soma consecutiva dos dias. O nosso olhar, porém, não pode ser neutro; deveremos cultivar os nossos fascínios e pequenas manias, avaliar e valorizar os acontecimentos passados para, já se sabe, regularmos o presente da maneira mais sensata possível. O passado é a medida do presente e o exemplo para o futuro, no melhor dos mundos.
Esqueçamos portanto a objectividade. O interesse do Renascimento funda-se essencialmente no seu carácter de confluência de tempos: o fim da Idade Média e de uma sociedade largamente dominada pela Igreja Católica, a redescoberta da cultura clássica e a consequente revolução a todos os níveis: político, cultural, artístico. Não vale a pena dissertar muito sobre as razões do florescer renascentista, antes esclarecer que aquilo que somos agora, para o mal e para o bem, nasceu ali; o Humanismo, raiz de todo mal e todo o bem, é aquilo que melhor caracteriza a essência do Homem moderno.
E o mal, cinzento e baço, pulsava naquela época. É esse o tema de Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, a sua razão e a tensão invisível que dominou a vida (e a pós-vida) de Vicino, duque de Orsini, exemplo perfeito do homem capturado por este nó temporal, hesitando entre a violência cruel dos príncipes italianos e a beleza da arte. Retrato de um homem e espelho das contradições da península, o romance de Lainez, empurrando por um sopro épico romântico, tenta sobretudo entender as contradições da História. O corcunda Orsini, ilustre descendente de uma família de condottieri (homens de mão de príncipes), vê-se no improvável (as estrelas não o previam) papel de herdeiro da crueldade de uma época e patrono das artes novas, emergentes. A sua deficiência física é simbólica, claro, como se a corcunda ilustrasse o peso do orgulho familiar e debotasse a beleza que a alma de Orsini ostenta. O jardim mandado construir por ele, repleto de quimeras, monstros e aberrações da Natureza, é simultaneamente um exemplo da perfeição maneirista e galeria de pecados e atrocidades cometidas por Orsini em vida.
O romance de Lainez é necessariamente um fresco de época, escrito num ritmo fluido, socorrendo-se de uma linguagem barroca que não é desvirtuada pela tradução elegante de Pedro Tamen. No futuro, Vicino olha para trás e tenta perceber que Homem terá sido, e ao fazê-lo explica ao leitor que época foi a vivida por ele. Como nos bons romances históricos, interessa menos a reconstituição e a investigação que foi feita (apesar de se notar que ela foi extensa e séria) e mais o capturar de um espírito, de um sentimento; que sentia quem viveu em tempos que admiramos e a que já não podemos aceder? O esforço de imaginação de Lainez é assombroso, mas não estéril; não há pirotecnias, apenas uma conservadora sobriedade, a melhor forma de representar um momento cristalizado da História.
Muitas vezes me lembrei de Obra ao Negro, de Marguerite Yourcenar, ao ler Bomarzo; como se Zenão, criado pela escritora francesa, fosse o reflexo invertido do duque de Orsini. Zenão, o humanista que se limita a observar e a registar a perversa natureza dos homens, e Vicino, que se deixa submergir pelo mal que o cerca. Quem poderá dizer que a História nada nos ensina, nada nos pode ensinar?
(Bomarzo, de Manuel Mujica Lainez, foi publicado pela Sextante).
![]()
![]()

![]()
![]()

![]()