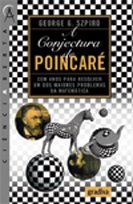sábado, 13 de junho de 2009
Comboios
Analisado por
Sérgio Lavos
às
19:22
26
comentários
![]()
sexta-feira, 17 de abril de 2009
Anjo Branco, Anjo Negro de António Quadros

"Anjo Branco Anjo Negro"
António Quadros
Portugália, s/d.
Desde muito novo me fascinou a personagem de António Quadros. Desde miúdo que ouvia a minha mãe contar histórias do seu tempo estudantil no IADE e da emblemática e "paternal" imagem que AQ transmitia. Infelizmente, nunca o vi; conheci-o ainda dentro da barriga da minha mãe e, talvez aí, tenha nascido o meu fascínio pela sua Obra.
Este é um livro maravilhoso, delicioso, cativante de ler. É o percorrer do imaginário simples, metafórico, simbólico de oito contos onde vai imperando a palavra Amor.
Um dos contos que mais me marcou foi "Rosa Mística", do qual deixo um pequeno parágrafo:
"Está aqui todo o mistério do amor. Se dois seres, amando-se, forem um só, harmonizando o que neles é contrário, serão como esta árvore e criarão vida e beleza. Darão a Deus uma cadeia mais e, noutras vidas, certamente voltarão a encontrar-se. E um dia estarão eternamente juntos e serão mais do que humanos, mais do que anjos, um dia serão Deus."
Analisado por
Francisco Canelas de Melo
às
23:52
5
comentários
![]()
quarta-feira, 11 de fevereiro de 2009
Vendas de livros online
Apesar do Arte de Ler ser um blogue de crítica literária, aproveito para partilhar convosco uma situação desagradável que se passou comigo.
Recentemente, fiz uma busca cibernáutica na esperança de encontrar um livro que está esgotado há muito tempo. Curiosamente encontrei um site de uma suposta livraria, ACVL (www.acvl.pt). Prontamente disponibilizaram, via e-mail, informação suplementar sobre os livros da mesma editora do livro que eu procurava, a entretanto extinta Hugin. De imediato efectuei uma encomenda e o respectivo pagamento via transferência bancária. No entanto, e após cerca de um mês e meio passado, com vários e-mails que enviei avisando da corrente situação, nunca me chegaram a responder nem a enviar o livro.
Como ninguém gosta de ser enganado, resolvi alertar publicamente para esta situação, na esperança que evite mais algumas burlas. O que estes tipos fazem é inadmissível e condenável.
Analisado por
Francisco Canelas de Melo
às
15:58
10
comentários
![]()
quinta-feira, 20 de novembro de 2008
Byblos
"Lisboa, 20 Nov (Lusa) - A Livraria Byblos, a maior do país, inaugurada há um ano em Lisboa, encontra-se hoje encerrada sem qualquer justificação aos clientes que se dirigirem às suas instalações, nas Amoreiras.
Aquela que foi "a primeira livraria inteligente", num investimento de quatro milhões de euros realizado pelo empresário Américo Areal, encontra-se hoje de portas fechadas e está a decorrer no interior uma reunião com os trabalhadores.
Fonte da empresa disse à Agência Lusa que os funcionários foram hoje informados do encerramento.
A Livraria Byblos, localizada num edifício nas Amoreiras, disponibilizava 150 mil títulos numa área de 3.300 metros quadrados, dispondo de um sofisticado sistema de identificação por radiofrequência, que o empresário chegou a destacar como "único no mundo".
Antes da inauguração, em Dezembro de 2007, Américo Areal, antigo dono das edições Asa, declarou que esperava facturar anualmente 10 milhões de euros e abrir mais três livrarias, no Porto, em Braga e em Faro.
NL.
Lusa/Fim"
Analisado por
mahayana
às
12:52
7
comentários
![]()
quarta-feira, 19 de novembro de 2008
Salammbô /Gustave Flaubert
 Este livro de Gustave Flaubert, apesar de não ser tão conhecido como Madame Bovary, foi para mim notável.
Este livro de Gustave Flaubert, apesar de não ser tão conhecido como Madame Bovary, foi para mim notável.Mergulhar nas primeiras Guerras Púnicas em Cartahgo. As batalhas, os rituais, os cercos, as perseguições, a vida dos Bárbaros, a dos Cartagineses... Viver as personagens: Almicar Barca, Salammbô, Mâtho, Spendius, Aníbal...
Analisado por
mahayana
às
13:26
1 comentários
![]()
segunda-feira, 10 de novembro de 2008
A Verdade do Amor - António Telmo
Analisado por
mahayana
às
11:28
1 comentários
![]()
segunda-feira, 3 de novembro de 2008
A Crítica...
Analisado por
mahayana
às
10:03
6
comentários
![]()
sexta-feira, 31 de outubro de 2008
Bomarzo/Manuel Mujica Lainez
Analisado por
Sérgio Lavos
às
17:36
4
comentários
![]()
quarta-feira, 8 de outubro de 2008
Um fio apenas
Analisado por
Sérgio Lavos
às
01:26
0
comentários
![]()
segunda-feira, 6 de outubro de 2008
O umbigo dos outros

Analisado por
Sérgio Lavos
às
19:24
0
comentários
![]()
domingo, 5 de outubro de 2008
Amerika (a leitura inacabada) II
Analisado por
Sérgio Lavos
às
12:42
0
comentários
![]()
sábado, 4 de outubro de 2008
Amerika (a leitura inacabada) I

Analisado por
Sérgio Lavos
às
22:35
0
comentários
![]()
domingo, 28 de setembro de 2008
Nunca me Deixes, Kazuo Ishiguro
 Contornar o banal, a simplificação do pensamento, inventar novos modos de dizer o que antes já foi dito, pegar num tema e dar-lhe a volta, adaptar o tema à voz que já se possui - regras evidentes para a produção de um bom livro. Não é excessivamente importante a originalidade do material de base, pode ser até um constragimento para a prossecução da obra; o autor acaba por investir grande parte do seu esforço naquela ideia inicial absolutamente original e pode desleixar-se no aprimoramento da forma. Uma das maiores fragilidades da Ficção Científica, por exemplo.
Contornar o banal, a simplificação do pensamento, inventar novos modos de dizer o que antes já foi dito, pegar num tema e dar-lhe a volta, adaptar o tema à voz que já se possui - regras evidentes para a produção de um bom livro. Não é excessivamente importante a originalidade do material de base, pode ser até um constragimento para a prossecução da obra; o autor acaba por investir grande parte do seu esforço naquela ideia inicial absolutamente original e pode desleixar-se no aprimoramento da forma. Uma das maiores fragilidades da Ficção Científica, por exemplo. Em Nunca me Deixes, Ishiguro enveredou por caminhos estranhos ao seu universo criativo, poder-se-ia ter pensado. Mas de rompante somos confrontados logo nas primeiras páginas com todas as marcas de autor a que estamos habituados. O lento desenrolar dos acontecimentos acaba por confirmar a impressão inicial. A mestria do escritor inglês revela-se no uso de um estilo que finge ser desinteressado, afastado da pomposidade barroca dos primeiros livros, como Os Despojos do Dia, mas que não deixa de ser depurado de forma densa e nervosa, obsessivamente concentrado nos pormenores da narrativa: gestos, olhares, mínimas alterações de voz, o captar de memórias que remetem de imediato para o tempo presente. E o tempo, neste romance, é essencial. A narrativa é um extenso flashback, um salto em direcção ao passado idílico de Kathy, o narrador, realizado com um primeiro objectivo: reunir tudo que foi dito, tudo o que aconteceu que na altura parecia destituído de sentido, e reconstituir uma linha coerente que concorresse para o desfecho que é pressentido nas primeiras páginas, o fim de Kathy como "Carer". Mas este flashback, pontualmente interrompido por outras prolepses e analepses, pretende ser também outra coisa: o resgate de uma infância que passou rapidamente pela vida de Cathy, Tommy e Ruth. A amizade que unia os três, como nasceu, cresceu e se alimentou das suas forças e das suas fragilidades, das peculiariedades e imperfeições que, noutro lugar, os poderiam afastar.
Atribuindo sentido a essa infância perdida, Ishiguro acaba por compor de forma subtil, mas resoluta, personagens de corpo inteiro, dotadas de uma espessura que, ao invés de as elevar acima do comum dos mortais, as coloca a um nível próximo do leitor, quase palpável.
Não querendo adiantar muito mais sobre o enredo do livro, acrescento que a humanidade que ressume da vida quase trágica (e escrevo quase porque a serenidade com que as personagens aceitam o seu destino é desarmante) de Kathy, Tommy e Ruth, é o nó que acaba por ser desatado no final, o que de modo irreversível me colocou de um lado da discussão ética que o tema do livro levanta. E obras assim, que se dirigem directamente ao entendimento do leitor, o questionam sem pudor, são raras.
Nunca me Deixes, Kazuo Ishiguro, Gradiva, 2006
Analisado por
Sérgio Lavos
às
09:59
2
comentários
![]()
sábado, 27 de setembro de 2008
Nunca me Deixes, Kazuo Ishiguro
Analisado por
Sérgio Lavos
às
00:56
3
comentários
![]()
segunda-feira, 22 de setembro de 2008
Tempo II (Austerlitz, W. G. Sebald)
 De seguida, Austerlitz prossegue na sua digressão, desenvolvendo uma exposição que complementa o que anteriormente é sugerido. Fala do tempo e das formas que ele assume, das suas distorções e dos alicerces artificiais que o suportam. A mais assombrosa das invenções humanas, o logro mais perfeito de que nos poderíamos lembrar. Talvez fosse desnecessário complementar a mensagem, mas uma das características decisivas na obra de W. G. Sebald é a prolixidade de Austerlitz. O narrador limita-se a ouvir o que o outro diz, ou assim Sebald quer fazer crer ao leitor. Podemos facilmente imaginar que o discurso de Austerlitz seja entrecortado por observações do narrador que, em benefício da economia da narrativa e do objectivo maior da obra, são habilmente suprimidas. Sabemos das acções do narrador, pouco conhecemos das suas reacções às ideias de Austerlitz. Mas falo do que não existe, admito. A literatura que habita fora da obra, a marca fundamental dos grandes romances. Outro autor que recorre a este tipo de narrador que se coloca num plano exterior é Philip Roth. Os seus vários alter-egos ouvem muito e opinam pouco, são meros contadores das histórias que acontecem fora da sua vida. Sucede assim em Pastoral Americana, onde o sueco Levov é elevado à categoria de derradeiro herói americano, personagem frágil e ultrapassada, como o é também um certo modo de vida americano em processo de desaparecimento. De volta a Austerlitz, percebemos que aquilo que reforça a faceta trágica da personagem que dá nome ao romance é a sua expulsão do arco imparável do tempo. Ele pertence às memórias que persegue ferozmente, às ruínas por onde caminha em busca de uma identidade que ele sabe que nunca conseguirá resgatar. Filho de judeus engolidos pela máquina de destruição do Holocausto, adoptado por pais ingleses que não lhe quiseram revelar a origem, ele permanece, décadas após a descoberta da terrível verdade, apátrida e desterritorializado, sombra deambulando entre sombras. Quem existe situa-se fora deste mundo, o narrador que se limita a efabular sobre uma história de espectros.
De seguida, Austerlitz prossegue na sua digressão, desenvolvendo uma exposição que complementa o que anteriormente é sugerido. Fala do tempo e das formas que ele assume, das suas distorções e dos alicerces artificiais que o suportam. A mais assombrosa das invenções humanas, o logro mais perfeito de que nos poderíamos lembrar. Talvez fosse desnecessário complementar a mensagem, mas uma das características decisivas na obra de W. G. Sebald é a prolixidade de Austerlitz. O narrador limita-se a ouvir o que o outro diz, ou assim Sebald quer fazer crer ao leitor. Podemos facilmente imaginar que o discurso de Austerlitz seja entrecortado por observações do narrador que, em benefício da economia da narrativa e do objectivo maior da obra, são habilmente suprimidas. Sabemos das acções do narrador, pouco conhecemos das suas reacções às ideias de Austerlitz. Mas falo do que não existe, admito. A literatura que habita fora da obra, a marca fundamental dos grandes romances. Outro autor que recorre a este tipo de narrador que se coloca num plano exterior é Philip Roth. Os seus vários alter-egos ouvem muito e opinam pouco, são meros contadores das histórias que acontecem fora da sua vida. Sucede assim em Pastoral Americana, onde o sueco Levov é elevado à categoria de derradeiro herói americano, personagem frágil e ultrapassada, como o é também um certo modo de vida americano em processo de desaparecimento. De volta a Austerlitz, percebemos que aquilo que reforça a faceta trágica da personagem que dá nome ao romance é a sua expulsão do arco imparável do tempo. Ele pertence às memórias que persegue ferozmente, às ruínas por onde caminha em busca de uma identidade que ele sabe que nunca conseguirá resgatar. Filho de judeus engolidos pela máquina de destruição do Holocausto, adoptado por pais ingleses que não lhe quiseram revelar a origem, ele permanece, décadas após a descoberta da terrível verdade, apátrida e desterritorializado, sombra deambulando entre sombras. Quem existe situa-se fora deste mundo, o narrador que se limita a efabular sobre uma história de espectros.
Analisado por
Sérgio Lavos
às
20:44
0
comentários
![]()