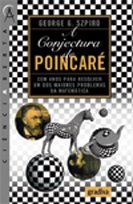O escritor que mais se aproxima da verdade é aquele que prefere esquecer a escrita. Será necessário colocar a questão? Porquê? Susan Sontag achava que os escritores que assim procedem são movidos por um instinto que acaba por ser criativo. No seu silêncio, cumprem a obra. As palavras de Blanchot, circulares, respondem ao apelo de Sontag: "A essência da literatura é o desaparecimento". Será então a criação uma desistência activa, uma recusa metafísica, um gesto que simula a ausência de gesto, o não-gesto. A constatação desta verdade é aterradora. Um silêncio que questiona directamente os que ainda não se calaram. A perturbação que a personagem de Melville, Bartleby, provoca na superfície estagnada do mundo é imprevisível. "Prefiro não o fazer". A história desliza então para um final aberto, para sempre perdida nas mãos do leitor.
quarta-feira, 23 de abril de 2008
quarta-feira, 16 de abril de 2008
A ceifeira
É quase sempre difícil distinguir o autor da obra. Não se lê desconhecendo completamente a biografia do autor e é quase inevitável que a leitura do texto seja condicionada pelo conhecimento que temos da sua vida.
A biografia não passa de uma sequência de datas e acontecimentos. Separo as duas noções porque raramente coincidem. O autor nasce, vive (e casa-se ou não, morre-lhe alguém ou não, completa a universidade ou não); e morre. Mas se falamos de acontecimentos, falamos de outra coisa. Da obra. Por alguém morrer, o autor mergulha na depressão e muda completamente o seu estilo. Cresceu na sombra de uma mãe protectora: escreverá de determinado modo. A História sofre convulsões que lhe dificultam a vida: o autor contraria a História e cria contra ela.
Falando de biografia: os autores que morrem novos são sempre lamentados a dobrar. Porque a empatia gerada com o leitor simula uma familiariedade postiça, o leitor chora o autor que morre como se fosse um dos seus. Porque o autor desaparece demasiado cedo, cisma-se na obra que ficou por criar, sonha-se com uma arca cheia de inéditos que possam alimentar a fome que se segue ao desaparecimento, inventariam-se conjecturas sobre o rumo que a obra por criar poderia ter tomado.
O leitor precisa destas consolações na sua relação com os autores de quem gosta. Não aprecia o rigor do académico, capaz de analisar friamente a obra desligada da vida. A biografia não é apenas um conjunto de circunstâncias sem relação com os livros. Acabe-se com as datas; obtém-se o chão onde a obra germina, o intervalo no tempo delimitando a marca do escritor na terra.
Não carecemos de adivinhações sobre obras inacabadas. Mas não podemos recusar o apelo da intimidade forçada. Ao ler um livro, convidamos para junto de nós quem o escreve. Esperando que o arrependimento não surja. Mais do que podemos desejar na relação com os outros. Vantagens de uma existência de papel.
(Texto publicado originalmente no Auto-retrato)
A biografia não passa de uma sequência de datas e acontecimentos. Separo as duas noções porque raramente coincidem. O autor nasce, vive (e casa-se ou não, morre-lhe alguém ou não, completa a universidade ou não); e morre. Mas se falamos de acontecimentos, falamos de outra coisa. Da obra. Por alguém morrer, o autor mergulha na depressão e muda completamente o seu estilo. Cresceu na sombra de uma mãe protectora: escreverá de determinado modo. A História sofre convulsões que lhe dificultam a vida: o autor contraria a História e cria contra ela.
Falando de biografia: os autores que morrem novos são sempre lamentados a dobrar. Porque a empatia gerada com o leitor simula uma familiariedade postiça, o leitor chora o autor que morre como se fosse um dos seus. Porque o autor desaparece demasiado cedo, cisma-se na obra que ficou por criar, sonha-se com uma arca cheia de inéditos que possam alimentar a fome que se segue ao desaparecimento, inventariam-se conjecturas sobre o rumo que a obra por criar poderia ter tomado.
O leitor precisa destas consolações na sua relação com os autores de quem gosta. Não aprecia o rigor do académico, capaz de analisar friamente a obra desligada da vida. A biografia não é apenas um conjunto de circunstâncias sem relação com os livros. Acabe-se com as datas; obtém-se o chão onde a obra germina, o intervalo no tempo delimitando a marca do escritor na terra.
Não carecemos de adivinhações sobre obras inacabadas. Mas não podemos recusar o apelo da intimidade forçada. Ao ler um livro, convidamos para junto de nós quem o escreve. Esperando que o arrependimento não surja. Mais do que podemos desejar na relação com os outros. Vantagens de uma existência de papel.
(Texto publicado originalmente no Auto-retrato)
Analisado por
Sérgio Lavos
às
20:08
1 comentários
![]()
sexta-feira, 4 de abril de 2008
A arte de ver
 Não é raro, ao ler um romance, darmos por nós a imaginar como seria aquela história adaptada para o ecrã, grande ou pequeno; mais justo para o escritor seria guardarmos aquela história e não pensar sequer em outro autor a refazer as palavras escritas.
Não é raro, ao ler um romance, darmos por nós a imaginar como seria aquela história adaptada para o ecrã, grande ou pequeno; mais justo para o escritor seria guardarmos aquela história e não pensar sequer em outro autor a refazer as palavras escritas.Um realizador trai sempre uma história, trai sempre as palavras do escritor. Há casos de adaptações feitas pelos próprios escritores, casos de escritores que se tornam realizadores. Marguerite Duras, Samuel Beckett, William Faulkner a trabalhar como argumentista de filmes que adaptavam obras de autores que, aparentemente, estavam nos antípodas da sua própria obra escrita, como Raymond Chandler (Big Sleep) ou Ernest Hemingway (To Have and To Have Not), tudo exemplos de gente ilustre que dedicou parte do seu tempo e dos seus esforços ao cinema. Mas é um facto aceite que os grandes filmes da história do cinema raramente nascem de grandes obras literárias; a linguagem cinematográfica funda-se em valores diferentes da linguagem literária. Quando um texto escrito é transformado em imagens, as perdas e os ganhos tornam o resultado final um objecto em tudo distante do original. Por razões estruturais - a existência de dois planos narrativos paralelos, o falado e o filmado - ou por razões que têm que ver com decisões do realizador, necessariamente diferentes das decisões do escritor, o filme nunca poderá traduzir fielmente tudo o que um romance diz. Será discutível afirmar que a riqueza da palavra escrita, que permite infinitas interpretações do texto, se sobrepõe à linearidade plana das imagens em movimento; as grandes obras cinematográficas são tão ricas em conteúdo e na forma como a melhor das obras de ficção escrita. Mas a verdade é que existe algo que as imagens nunca produzem: as aliterações, as metáforas, a maravilhosa riqueza linguística que um estilista da língua consegue produzir. O prazer do texto, de acordo com Roland Barthes, não nasce apenas da descodificação da palavra do autor; há grandes ideias que surgem como resultado do simples processo de ler um texto escrito de forma exemplar. E quanto mais complexo e denso é um texto mais ideias dele se podem extrair. Reduzir um romance ou um conto apenas à história que é contada é um erro em que não devemos incorrer.
Mas, é verdade, há quem escreva de uma forma cinematográfica. Será impossível alguma vez realizar um filme que se aproxime sequer do génio de Beckett, por exemplo, um autor que vive da força da linguagem. Ninguém conseguiu ainda fazer uma obra minimamente decente que adapte Kafka (apesar do esforço de Orson Welles em O Processo). Mas reinventar histórias medíocres, como Hitchcock fez tantas vezes, é um caminho fácil; e, ao mesmo tempo, espinhoso. O génio de Hitchcock reside na extraordinária expressividade dos pormenores puramente cinematográficos; as histórias eram um pretexto para a invenção, para a ostentação de uma mestria técnica invejável.
Mais recentemente, os irmãos Cohen fizeram o óbvio: adaptaram um texto que é quase um guião, Este País Não é Para Velhos. O estilo de McCarthy, seco, sincopado, com indicações de cena cinematográficas, presta-se a isto. Mas havia exemplos anteriores de romances de McCarthy tornados obras medianas, discretas; refiro-me a Belos Cavalos, realizado por Billy Bob Thornton em modo de completo desperdício: as paisagens, o deserto, a violência, tudo serviu para um filme que chega a ser um pastelão romântico.
A verdade é que o filme dos Cohen é uma obra-prima, por razões que vão muito além da riqueza do texto de McCarthy. A história é nada, tudo depende do olhar do cineasta. Os cenários imaginados partem sempre de um ponto interior, a imaginação do artista. E neste ponto, escritor e realizador aproximam-se: ambos criam imagens; o primeiro descobre-as através de palavras; o segundo persegue-as com uma câmara. Ramos divergentes da mesma árvore do conhecimento.
Nota: as imagens são de retiradas do filme de Alain Resnais que adapta um texto de Alain Robbe-Grillet, O Último Ano Em Marienbad. Um exemplo de uma adaptação que capta na totalidade uma ideia do texto. Como filmar a percepção individual do tempo.
Analisado por
Sérgio Lavos
às
19:14
0
comentários
![]()
terça-feira, 1 de abril de 2008
Nomeação
O Arte de Ler foi nomeado para os Prémios BLiBiE, na categoria de Melhor Blogue de Livros (Leitores ou Autores).
Pela quantidade de comentários de bloggers a sugerir os seus próprios blogues, saber que este nosso foi notado e não procurou fazer-se notar, é já para nós uma vitória...
Pela quantidade de comentários de bloggers a sugerir os seus próprios blogues, saber que este nosso foi notado e não procurou fazer-se notar, é já para nós uma vitória...
Analisado por
Luís Daehnhardt
às
23:02
0
comentários
![]()
Subscrever:
Mensagens (Atom)