 George Steiner é um pessimista. Imaginamos que não o seria aos vinte, nem aos trinta, por isso desculpamos-lhe a amargura; quem não chegou ainda a velho não sabe o que é olhar para a frente e não ver caminho a desbravar. A trágica natureza humana.
George Steiner é um pessimista. Imaginamos que não o seria aos vinte, nem aos trinta, por isso desculpamos-lhe a amargura; quem não chegou ainda a velho não sabe o que é olhar para a frente e não ver caminho a desbravar. A trágica natureza humana.O que faz um homem velho, que devotou uma vida ao conhecimento, perseguindo a sabedoria pela via mais difícil, a dos livros, quando se torna pessimista? Escreve um texto elegíaco sobre os livros, uma homenagem em letra de forma a toda a sua vida.
Steiner tem um estilo de escrita reconhecível, no qual avulta a profunda erudição e a capacidade de criar ligações entre ideias e autores. A este conhecimento enciclopédico, Steiner alia um entusiasmo sempre disponível, incapaz de deixar de admirar intensamente as obras dos grandes génios nas artes e na ciência - e para ele, a ciência é o ramo que nunca se devia ter separado da filosofia (foi essa uma das principais ideias da conferência que deu há umas semanas na Gulbenkian). Usa os nomes dos seus génios pessoais como fétiches ou mnemónica para as suas linhas de pensamento - Homero, Platão, Aristóteles, Shakespeare, Milton, Mozart, Turner. É um classicista, certo, e desde sempre foi - o ensaio que o tornou conhecido, No Castelo do Barba Azul, é uma resposta ao texto de Eliot, Notas para a Definição de Cultura, modernista nos seus propósitos, quando não no conteúdo (mas aí, a verdade é que Eliot já não tinha o optimismo da juventude quando o escreveu, em 1948). Nunca foi moderno, na sua intransigência na defesa de um gosto que recusa a modernidade - repetiu na conferência uma frase chave: "Ao lermos a Odisseia, acharemos sempre que é mais moderna que o Ulisses, de Joyce". Apesar deste conservadorismo estético, ou em consequência dele, digamos, Steiner tornou-se um autor popular fora dos círculos académicos - imagino que atraindo a inveja dos especialistas das diversas áreas que toca - a filosofia política, a estética, a literatura. De resto, o seu combate à especialização de saberes no mundo actual acaba por ser uma defesa da sua própria obra e sentido de vida. Não surpreende.
Steiner tem um estilo de escrita reconhecível, no qual avulta a profunda erudição e a capacidade de criar ligações entre ideias e autores. A este conhecimento enciclopédico, Steiner alia um entusiasmo sempre disponível, incapaz de deixar de admirar intensamente as obras dos grandes génios nas artes e na ciência - e para ele, a ciência é o ramo que nunca se devia ter separado da filosofia (foi essa uma das principais ideias da conferência que deu há umas semanas na Gulbenkian). Usa os nomes dos seus génios pessoais como fétiches ou mnemónica para as suas linhas de pensamento - Homero, Platão, Aristóteles, Shakespeare, Milton, Mozart, Turner. É um classicista, certo, e desde sempre foi - o ensaio que o tornou conhecido, No Castelo do Barba Azul, é uma resposta ao texto de Eliot, Notas para a Definição de Cultura, modernista nos seus propósitos, quando não no conteúdo (mas aí, a verdade é que Eliot já não tinha o optimismo da juventude quando o escreveu, em 1948). Nunca foi moderno, na sua intransigência na defesa de um gosto que recusa a modernidade - repetiu na conferência uma frase chave: "Ao lermos a Odisseia, acharemos sempre que é mais moderna que o Ulisses, de Joyce". Apesar deste conservadorismo estético, ou em consequência dele, digamos, Steiner tornou-se um autor popular fora dos círculos académicos - imagino que atraindo a inveja dos especialistas das diversas áreas que toca - a filosofia política, a estética, a literatura. De resto, o seu combate à especialização de saberes no mundo actual acaba por ser uma defesa da sua própria obra e sentido de vida. Não surpreende.
Um autor que oscila entre o pessimismo e a nostalgia de um passado melhor apenas poderia ter a visão que tem dos livros. Em O Silêncio dos Livros, acreditamos mais no livro como objecto sagrado, o seu uso inicial, do que objecto de estudo e manuseamento rápido. Steiner fala do uso inicial dos livros, da sua etimologia - como depósito das leis que governam o Homem, sejam elas religiosas ou humanas. A acumulação do conhecimento em livros, ao longo dos séculos, permitiu uma universalização dos saberes. Não me parece que Steiner aprecie esta democratização, apesar de implicitamente defender o acesso das grandes obras a toda a gente. Mas o tom elitista que adopta ao abordar o actual declínio da leitura trai a sua atitude inicial. A realidade desmente o pessimismo endémico. Tudo está mais acessível - a Internet apenas é um mal para quem ou não a sabe utilizar ou utiliza mal - e não substitui, nem nunca irá substituir o prazer de ler um livro, recolhido no silêncio (na Internet, há ruído de toda a espécie a atravancar os sentidos). As ameaças à liberdade de publicar, duvido que sejam agora mais prementes do que sempre foram - a liberdade de dizer, escrevendo, acabará sempre por se sobrepor à vontade de poder das diversas religiões e ideologias. E a Internet permite essa liberdade - enquanto não houver restrições à circulação da informação. Podemos questionar a qualidade da informação - mas temos a possibilidade de o fazer, escolhendo. O controlo exercido pelas antigas ditaduras tornou-se uma sombra longínqua (no mundo ocidental, pelo menos). Existe um risco de um regresso a tempos sombrios? Sem dúvida, haverá sempre. Não seria tão interessante lutar contra isso se não existisse esse perigo.
A ameaça do ritmo do mundo actual aos livros é um falso problema. Havendo mais oferta, há mais possibilidade de escolha - mas as obras que definem uma existência continuam a poder ser lidas - há, de certeza, neste momento mais traduções da Odisseia disponíveis do que há cinquenta anos. Ou há trezentos. Steiner diz que dificilmente aparecerá outro Shakespeare - mas apenas há um por milénio; esperemos mais 500 anos. Enquanto vem e não vem, podemos ir lendo os autores que não são génios (é a centelha de Deus, acessível a poucos), recolhendo nos livros a maior dádiva de todas: a possibilidade de se escolher aquilo em que se acredita.
A ameaça do ritmo do mundo actual aos livros é um falso problema. Havendo mais oferta, há mais possibilidade de escolha - mas as obras que definem uma existência continuam a poder ser lidas - há, de certeza, neste momento mais traduções da Odisseia disponíveis do que há cinquenta anos. Ou há trezentos. Steiner diz que dificilmente aparecerá outro Shakespeare - mas apenas há um por milénio; esperemos mais 500 anos. Enquanto vem e não vem, podemos ir lendo os autores que não são génios (é a centelha de Deus, acessível a poucos), recolhendo nos livros a maior dádiva de todas: a possibilidade de se escolher aquilo em que se acredita.

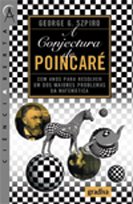


Sem comentários:
Enviar um comentário